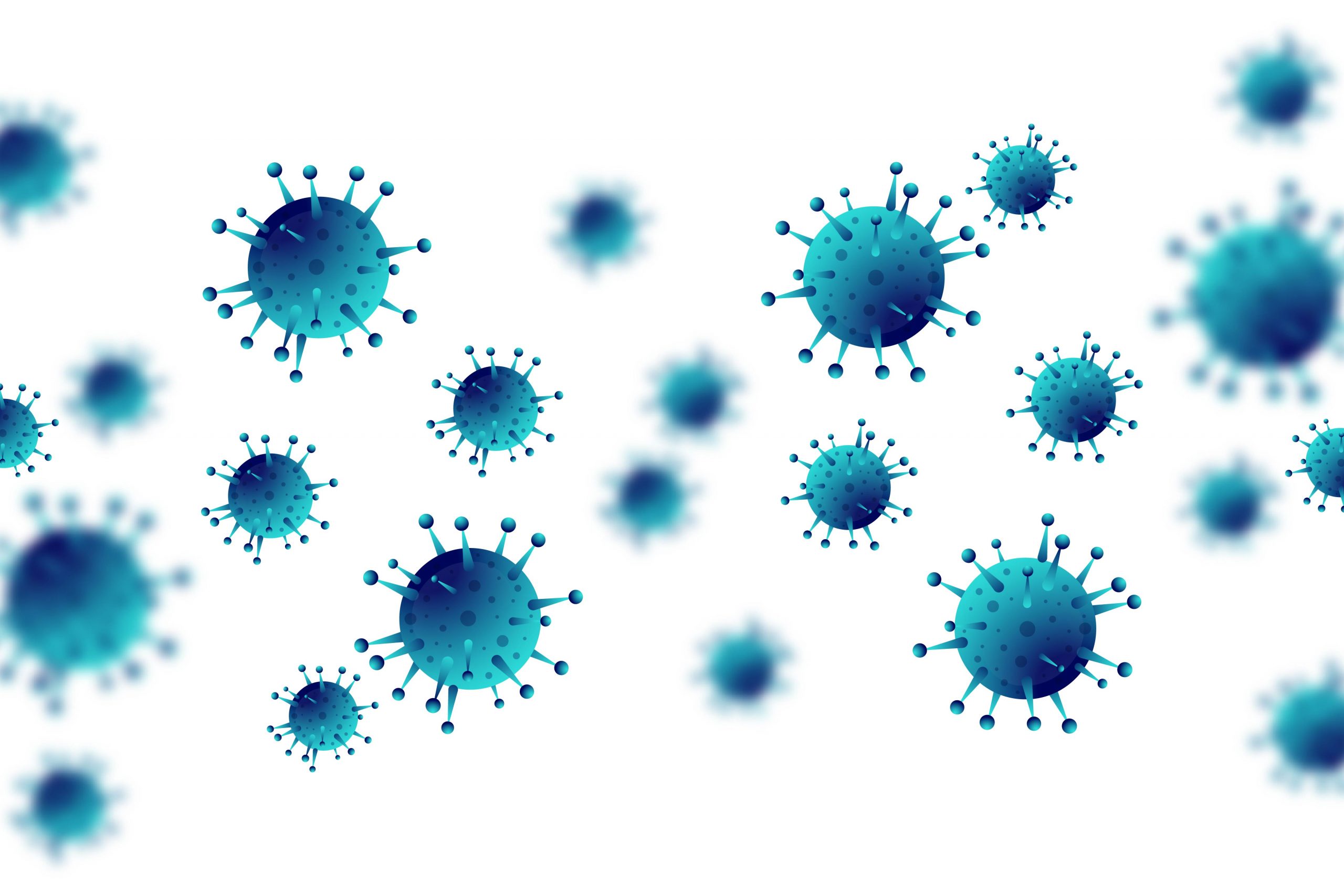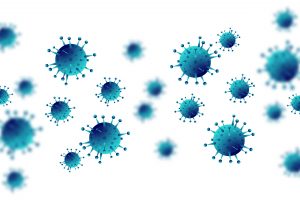Maria Joana Barni Zucco
“O que era de importância secundária no
século XX tende a se converter em tema
dominante no século XXI.” (Kofl Annan,
2002)
Resumo
Os direitos das pessoas idosas se inserem no contexto dos direitos humanos. Contudo, a frequente inobservância de direitos e as atitudes discriminatórias que afetam mais diretamente alguns grupos humanos exigem, cada vez mais, a elaboração de documentos normativos que garantam a promoção, a proteção e a defesa dos direitos de determinada “categoria” de indivíduos. Embora a normatização de direitos das pessoas idosas na agenda internacional e nacional apresenta-se de forma bastante robusta, sua efetivação, no Brasil, é ainda precária. A sociedade, as famílias e, especialmente os idosos desconhecem o amplo conjunto de seus direitos. E, mesmo conhecendo-os, sentem-se, às vezes, imobilizados diante das dificuldades burocráticas para acessá-los. Torna- se, pois, importante a capacitação permanente dos agentes públicos, dos membros dos Conselhos de Direitos do Idoso e dos participantes de entidades preocupadas com o processo de envelhecimento humano e com a política do cuidado das pessoas idosas. Também os profissionais em geral exercerão suas atividades de maneira mais integrativa e humana se tiverem essa formação qualificada, esse olhar acolhedor, cuidadoso e, sobretudo, defensor da dignidade da pessoa que envelhece.
Introdução
Os direitos das pessoas idosas se inserem no contexto daqueles direitos mais gerais relativos a toda a espécie humana: os direitos humanos. Contudo, a frequente inobservância de direitos que afetam mais diretamente alguns grupos humanos – bem como as atitudes discriminatórias em relação a tais grupos – vem exigindo, cada vez mais, a elaboração de documentos normativos que garantam a promoção, a proteção e a defesa dos direitos de determinada “categoria” de indivíduos.
No caso das pessoas idosas, esse conjunto normativo tornou-se ainda mais importante com a instauração da nova realidade populacional decorrente da crescente longevidade ocorrida nas últimas décadas.
O presente texto, elaborado com a finalidade de embasar palestra proferida virtualmente, em 23 de agosto de 2021, como parte do I Ciclo de Formação da ANG Alagoas, é resultado de pesquisas diversas, sem metodologia específica, inclusive utilizadas para outros documentos já publicados pela autora, mas, pela própria natureza do tema, baseia-se, em especial, em documentos normativos, internacionais e nacionais, voltados à promoção e à defesa dos direitos das pessoas idosas. Considerando a impossibilidade de adentrar mais detalhadamente nos direitos dos idosos conferidos pelos inúmeros documentos normativos, este texto – assim como a palestra – terá como objetivo principal “noticiar” a existência e a importância de cada marco normativo. Para melhor compreensão e efetiva capacitação sobre o tema, os documentos apontados deverão ser lidos e estudados individualmente.
Contextualização – Marcos internacionais
Para falarmos dos marcos internacionais que oferecem promoção, proteção e defesa dos Direitos das Pessoas Idosas precisamos retroagir ao início das preocupações internacionais com os Direitos Humanos, pois os Direitos das Pessoas Idosas se inserem no contexto daqueles direitos mais gerais relativos a toda a espécie humana.
Ainda que na história da humanidade, no que se refere ao mundo ocidental, tenhamos conhecimento de inúmeros acontecimentos que, de alguma forma, demonstraram preocupação com valores humanos (o Humanismo, a Revolução Francesa, o movimento internacional pela Libertação dos Escravos, dentre outros), foi a partir das duas guerras mundiais do Sec. XX que esta preocupação tornou-se mais evidente e mais conectada com o que hoje entendemos como Direitos Humanos.
Assim, dados os objetivos do presente trabalho, começaremos – de forma muito sucinta – pelos acontecimentos do sec. XX.
Ao final da Primeira Guerra Mundial, diante de tantas atrocidades, foi pensada, pela primeira vez, a criação de um fórum internacional por meio do qual fosse possível resolver os atritos entre os países, sem necessidade de recorrer à guerra, a qual gerava sofrimentos das mais variadas espécies e mortes abundantes. Assim, foi criada, em 1919, a Liga das Nações a qual, todavia, não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial.
Em 1945, como consequência das conferências de paz realizadas ao final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), também com o objetivo de buscar a paz entre as nações diante do sofrimento humano, do genocídio e da destruição e pobreza decorrentes da guerra.
Dentre as diversas ações que envolveram já um grande número de países, nos primeiros anos da ONU, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 1948. Da elaboração e adoção deste documento participaram os então membros da ONU, dentre os quais o Brasil, que o assinou e ratificou já naquele momento.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo os trâmites legais, não tem força impositiva (legal); todavia pode ser apontada como um marco histórico do Sec. XX que inspirou e fortaleceu princípios igualitários em muitas democracias no mundo e abriu as portas para a elaboração e a especificação de novos direitos que o desenvolvimento da sociedade vem exigindo. Seus 30 artigos incluem diversos objetivos, todos centrados nos direitos humanos igualitários e fraternos. Não por acaso, os artigos iniciam com “todo ser humano”.
Com as memórias das guerras mundiais e da Grande Depressão ainda frescas na mente, os redatores explicaram o que não pode ser feito com seres humanos e o que deve ser feito por eles.3
O art. 1º é uma espécie de “premissa afirmativa geral e introdutória”; proclama a liberdade e a igualdade de direitos, a dignidade e a fraternidade. O art. 2º, por sua vez, aponta a proibição de discriminação.4
Artigo 1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Artigo 2
- Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
- Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de
Observe-se que ‘idade” não consta das características nomeadas dentre aquelas apontadas como não passíveis de discriminação. Parece que a velhice, naquele momento, não era um fato que demandasse especial atenção. Mas, também, talvez esteja aí a razão de o ageísmo – ou idadismo – a discriminação relacionada à idade (discriminação etária), ser ainda tão negligenciada pelos direitos humanos no mundo.
Apenas no art. 25, que trata de políticas públicas aos mais vulneráveis, a “velhice” é mencionada:
- Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (grifo da autora)
A percepção do processo de envelhecimento da população como um importante fenômeno internacional a merecer atenção parece ter começado a preocupar a ONU apenas algumas décadas depois.
A Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Viena, em 1982, foi considerada o marco inicial para o estabelecimento de uma agenda internacional de políticas públicas para a população idosa.
O propósito era que a Assembleia Mundial servisse de foro “para iniciar um programa internacional de ação que visa a garantir a segurança econômica e social das pessoas de idade, assim como oportunidades para que essas pessoas contribuam para o desenvolvimento de seus países”5
Dela resultou o Plano de Ação Internacional para Idosos, constituído por 66 recomendações para os estados-membros em sete áreas que visavam, sobretudo, promover a independência econômico-social do idoso: tratou de políticas públicas específicas para a saúde e nutrição, proteção dos consumidores idosos, moradia e meio ambiente, família, bem-estar social, previdência e emprego, e educação6.
Em 2002, foi realizada a Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em Madri. Com o objetivo de elaborar uma política de envelhecimento para o século XXI, foram elaborados dois documentos principais: a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento.
A Declaração Política, composta por 19 artigos, assim inicia:
Nós, representantes dos Governos, reunidos na II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, celebrada em Madri, decidimos adotar um Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento para responder às oportunidades que oferece e aos desafios feitos pelo envelhecimento da população no século XXI e para promover o desenvolvimento de uma sociedade para todas as idades. (Parte Inicial do Art. 1º da Declaração Política).
O Plano de Ação Internacional, por sua vez, trouxe mudanças de atitudes, políticas e práticas, em todos os níveis, para promover e proteger os direitos da população idosa, diante do enorme potencial de envelhecimento populacional – dada a longevidade – no século XXI.
No marco desse Plano de Ação, resolvemos adotar medidas em todos os níveis, nacional e internacional, em três direções prioritárias: idosos e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na velhice e, ainda, criação de um ambiente propício e favorável. (Parte final do Art.1º da Declaração Política)7
É importante destacar que, no art. 3º são reafirmados os princípios e as recomendações de todos os documentos anteriores, em especial o Plano de Ação de 1982, mas também enaltece a necessidade de “mudanças das atitudes, das políticas e das práticas em todos os níveis e em todos os setores, para que possam se concretizar as enormes possibilidades que oferece o envelhecimento no século XXI”.8
Conforme visto acima, as recomendações para a adoção de medidas organizaram-se em três direções prioritárias: os idosos e o desenvolvimento; a promoção da saúde e do bem estar na velhice; e a criação de ambientes propícios e favoráveis à vida das pessoas idosas.
O Brasil é signatário desses Planos e, não posso deixar de apontar que houve implementação importante de alguma legislação protetiva à população idosa, em conformidade com as orientações internacionais.
Contudo, não existe, até aqui, um instrumento internacional juridicamente vinculativo que padronize e proteja os direitos das pessoas idosas. Isto é: não há convenções multilaterais que contemplem o idoso como tema principal, que exigiria dos países-membros a ratificação e seu cumprimento obrigatório. Esses Planos de Ação não são obrigações para os países-membros; são normas gerais ou princípios; não são normas jurídicas vinculativas. Assim, os países membros da ONU não estão obrigados a cumpri-los, embora possam fazê-lo.
Seria importante, pois, a elaboração de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos para as Pessoas Idosas, com a qual a temática do idoso adquiriria maior visibilidade e reconhecimento, tanto nacional como internacional. “Uma norma internacional vinculativa ajudaria a prevenir todo e qualquer tipo de discriminação institucional pautada na idade”9.
Em face desse “vazio legal vinculativo”, a OEA celebrou, em 15 de junho de 2015, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos10, a qual foi subscrita pelo Brasil, estando no aguardo do depósito do segundo instrumento de ratificação, dependente ainda de aprovação do Congresso Nacional, para o qual foi enviada pela Mensagem 412 em 24 de outubro de 2017.
Na Exposição de Motivos ministerial que acompanhou a Mensagem 412, evidencia-se a importância da aprovação desta medida, em especial no item 8, quando é destacada que esta Convenção se tornará o primeiro documento juridicamente vinculante nos termos do §3º do art. 5º da Constituição Federal.
- Tendo em vista o que precede, os Ministérios que assinam esta Exposição de Motivos recomendam que, para a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, por suas motivações e por tratar-se do primeiro documento juridicamente vinculante específico sobre os direitos das pessoas idosas, seja adotado o procedimento previsto do § 3° do art. 5° da Constituição Federal. Vale destacar que esta recomendação conta também com o respaldo do CNDI e das organizações da sociedade civil que apoiaram a participação brasileira no processo negociador. O CNDI, órgão superior de natureza e deliberação colegiada, tem exercido papel fundamental no processo de promoção, acompanhamento e monitoramento das ações voltadas para os direitos das pessoas idosas. (Grifos da autora)
O §3º do art. 5º da Constituição Federal diz o seguinte:
Art. 5º, § 3º: Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Lamentavelmente, a Convenção, transformada em Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais n. 863/2017, encontra- se, até a presente data11, “estacionada” na Câmara dos Deputados, desde dezembro de 2018, aguardando votação em Plenário. Recebeu parecer favorável das Comissões e, depois de aprovada na Câmara, em dois turnos, deverá, ainda, ser submetida ao Senado, nos termos constitucionais, conforme
- 3º do art. 5º acima citado.
Além desses documentos internacionais, diversos outros foram elaborados, alguns dos quais citados inclusive no PREÂMBULO da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, acima mencionada, conforme se pode aqui rever:
Recordando o estabelecido nos Princípios das Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas (1991), a Proclamação sobre o Envelhecimento (1992), a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (2002), bem como os instrumentos regionais, tais como a Estratégia Regional de Implementação para a América Latina e o Caribe do Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (2003), a Declaração de Brasília (2007), o Plano de Ação da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a Saúde dos Idosos, Incluindo o Envelhecimento Ativo e Saudável (2009), a Declaração de Compromisso de Poti of Spain (2009) e a Carta de San José sobre os direitos do idoso da América Latina e do Caribe (2012);
Recentemente, já sob o impacto da Pandemia do COVID-19, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o período de 2021 a 2030 como Década do Envelhecimento Saudável e convocou a Organização Mundial da Saúde (OMS) para liderar a implementação da Década, em colaboração com as outras organizações da ONU. Governos, organizações internacionais e regionais, sociedade civil, setor privado, academia e mídia estão sendo encorajados a apoiar ativamente os objetivos da Década.12
As ações desta década centram-se em quatro temas: 13
- Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao
- Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas
- Entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados à pessoa
- Propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem.
Em resumo, não faltam iniciativas internacionais que apontam ao Brasil e às demais nações do mundo direções para a implementação de Políticas de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa. Vinculativos ou não, os documentos existem em grande quantidade. Cumpre que sejam conhecidos e difundidos, e que a importante função de controle social seja amplamente exercida pelos cidadãos engajados e pelos membros de entidades da sociedade civil organizada.
Legislação protetiva na agenda nacional
A partir das discussões da assembleia constituinte, com a Constituição Federal de 1988 o idoso passa a ter maior visibilidade social e legal. Além de apontar a dignidade humana, como um de seus fundamentos, no seu art. 3º, inciso IV, a Constituição Federal prevê como um dos objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação, inclusive em razão da idade do cidadão. Daí a proibição de discriminação do idoso, ou seja, proibição de dar-lhe tratamento diferenciado prejudicial em função da idade.14
- 1º – Dignidade humana como fundamento.
- 3º – IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Como sujeito de direitos, o idoso é cidadão brasileiro e, dessa forma, é merecedor de todos os direitos e garantias fundamentais contidos no art. 5º da Constituição Brasileira. Entretanto, além desses direitos, a própria CF/88 preocupou-se em oferecer às pessoas idosas outros direitos e garantias especiais:
- Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
- Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (grifos da autora)
As Diretrizes traçadas de forma genérica, como princípios, pela Constituição Federal, são especificadas em outras leis, prevendo detalhadamente os interesses e as necessidades especiais dos idosos.15
As principais Leis Nacionais que tratam de tais direitos e garantias das pessoas idosas são:
- Lei 842/1994 – Política Nacional do Idoso
- Lei 741/2003 – Estatuto do Idoso.
A Política Nacional do Idoso (PNI), embora publicada apenas em janeiro de 1994, foi resultado da movimentação de entidades da sociedade civil brasileira – dentre as quais a forte presença da Associação Nacional de Gerontologia – ANG – em consequência, ainda que um pouco tardia, da Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento e das recomendações do seu Plano de Ação Internacional para Idosos. A PNI traçou as diretrizes de um novo paradigma para este segmento populacional com foco principal na organização e na gestão das ações governamentais.
Diz sua ementa: “Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.” Todavia, embora os artigos 6º e 7º definam o que são os conselhos e quais suas competências gerais, o detalhamento do Conselho Nacional (Art. 11 a 18) foi vetado pelo então presidente, por questões processuais de competência na iniciativa do Projeto de Lei. Foi entendido que se tratasse de criação e estruturação de órgãos da administração pública (sic)16, e, nesse caso, sua iniciativa caberia privativamente ao executivo e não ao legislativo.
Nesse sentido, o Conselho Nacional do Idoso só veio a ser criado, dessa vez por Decreto, em 2002, um distanciamento que, certamente, contribuiu para a não efetivação de muitas das disposições do PNI.
A PNI prevê ações e gestões governamentais nas áreas de:
I – promoção e assistência social;
II- saúde;
III – educação;
IV- trabalho e previdência social;
V – habitação e urbanismo;
VI- justiça;
VII- cultura, esporte e
A leitura dessas ações demonstra que:
a) O dever do Estado de garantir os direitos das pessoas que envelhecem ainda está muito longe de ser inteiramente
b) Passadas quase três décadas, essa Política deveria ser revista para incluir outras ações que as diferentes “velhices” hoje existentes estão a exigir.
O Estatuto do Idoso, por sua vez, caracterizou-se por ser ação afirmativa de ampliação do sistema protetivo do idoso definindo, inclusive, as medidas específicas de proteção ao idoso, bem como os crimes em espécies (descrição e pena), todos considerados de ação penal pública incondicionada, e promovendo alteração no Código Penal.17
O Estatuto do Idoso é uma lei com 118 artigos e se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Deve ser conhecido na íntegra. Contudo, destacam-se, aqui, alguns dos artigos introdutórios, indispensáveis para conselheiros, gestores e lideranças em políticas para pessoa idosa.
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Grifos da Autora).
Direitos Fundamentais Elencados no Estatuto do Idoso
- 8º e 9º – Direito à Vida
- 10 Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
- 11 a 14 – Direito a Alimentos
- 15 a19 Direito à Saúde
- 20 a 25 Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
- 26 a 28 Direito à Profissionalização e ao Trabalho
- 29 a 32 Direito à Previdência Social
- 33 a 36 Direito à Assistência Social
- 37 e 38 Direito à Habitação
- 39 a 42 Direito ao Transporte
Na sequência (art. 43 a 45), o Estatuto do Idoso apresenta as Medidas de Proteção aplicáveis pelo poder judiciário, a pedido do Ministério Público (a órgãos governamentais, entidades não governamentais, familiares, etc.) sempre que os direitos forem descumpridos, seja por ação ou omissão.
Depois trata das “Entidades de Atendimento ao Idoso” (art. 46 a 51) e da Fiscalização dessas entidades de atendimento (art. 52 a 55).
Na sequência trata por vários artigos de questões mais processuais e jurídicas, questões que preveem os mecanismos de controle e garantia dos direitos definidos no Estatuto:
- 56 a 71 – Infrações às normas protetivas, apuração e acesso à justiça.
- 73 a 92 – O papel do Ministério Público na proteção dos interesses dos idosos.
Por fim, do art. 93 ao 113, um importante papel do Estatuto do Idoso: legislar sobre crimes contra pessoas idosas e estabelecer as respectivas penas. Importante porque, conforme o Código Penal Brasileiro: “Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”
A partir do art. 93, o Estatuto do Idoso elenca as ações/omissões consideradas crimes contra pessoas idosas Destaques para:
Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:
- Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e
- 1oNa mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
- 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.
- 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando- o a trabalho excessivo ou inadequado:
- Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e
- 1oSe do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
- 2oSe resulta a morte:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
- Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e
Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:
- Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e
Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:
- Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro)
Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:
- Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)
Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:
- Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro)
Legislação protetiva adicional
Muitas outras leis federais e decretos conferem às pessoas idosas direitos adicionais. Tais direitos são previstos, ora em legislação específica, ora estão inseridos em normas gerais de direitos aos cidadãos. Por exemplo:
- Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV, XV e XXI – Isenção parcial IRPF aos 65 anos e total para portadores de determinadas doenças.
- Lei 8.213/1991 – Lei da Previdência – direitos previdenciários em geral e, em especial o 45 – 25% sobre a renda do aposentado por invalidez inteiramente dependente.
- Lei 8.742/1993 e Decreto 6.214/2007– Assistência social aos idosos vulneráveis e
- Lei 503/1997 – CTB -Vagas de estacionamento.
- Lei 048/2000 – Prioridade no embarque e desembarque.
- Resolução 303 CONTRAN/2008 – Vagas de
- Lei 212/2010 – Tarifa social de energia elétrica.
- Resolução 280/ANAC/2013 – PNAE – atendimento prioritário.
- Lei 105/2015 – CPC – art. 1048 – Prioridade nos processos judiciais.
- Lei 13.105/2015 – CPC – art. 747 a 763 (Curatela), conjugados com art. 1783-A, da Lei 406/2002 – CC (Tomada de Decisão Apoiada).
- Decreto 9.921/2019 – Consolida atos normativos sobre a Pessoa Idosa, regulamenta a PNI e a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.
- Lei 176/2021 – Altera normas do BPC e dá outras providências.
Ressalte-se que alguns estados e municípios têm, também, leis próprias que estabelecem a Política do Idoso. Outros seguem apenas a nacional.
Por último, aponta-se a existência de inúmeras Resoluções do Conselho Nacional do Idoso (CNDI), Deliberações das Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa, Resoluções dos Conselhos Estaduais do Idoso (CEIs) e Resoluções dos Conselhos Municipais do Idoso (CMIs), normas em constante atualização; isso exige que as pessoas envolvidas em atividades de promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas estejam atentas a todas, num trabalho de formação continuada para a divulgação e defesa desses direitos.
Conclusão
O aparato normativo internacional e nacional é amplo. Mas precisa ser conhecido e tornado efetivo.
Embora a normatização de direitos das pessoas idosas – seja na agenda internacional, seja na nacional – apresenta-se de forma bastante robusta, mesmo que nem sempre com força impositiva, conforme já mencionado, sua efetivação no Brasil é ainda precária. A sociedade, as famílias e, especialmente os idosos desconhecem o amplo conjunto de seus direitos. E, mesmo conhecendo-os, sentem-se, às vezes, imobilizados diante das dificuldades burocráticas para acessá-los.18
Daí a importância da capacitação permanente dos gestores públicos, dos membros dos Conselhos de Direitos do Idoso e dos participantes de entidades voltadas para o processo de envelhecimento humano e para a política do cuidado das pessoas idosas. Mas não só. Profissionais em geral, mas em especial aqueles ligados à saúde (física e mental), à justiça, à educação e à assistência social exercerão suas atividades de maneira mais integrativa e humana se tiverem essa formação qualificada, esse olhar acolhedor, cuidadoso e, sobretudo, defensor da dignidade da pessoa que envelhece.
Parafraseando uma fala do Dr. Wladimir Paes de Lira, Juiz de Direito de Maceió,19 concluo dizendo: apesar (e até por conta) de tantas normas, “estamos muito longe do nível civilizatório desejado”, no que concerne à discriminação de qualquer tipo de vulnerabilidade.
Quando os direitos dos idosos forem mais respeitados, a sociedade como um todo será melhor.
Referências
ANG – Associação Nacional de Gerontologia. Recomendações: Políticas para a 3° idade nos anos 90. Brasília, outubro de 1989.
BRASIL. Agência Nacional de Aviação Civil, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Guia de Direitos e acessibilidade do Passageiro. ANAC, 2016. Disponível em: https://www.anac.gov.br/publicacoes/guia_de_direitos_do_passageiro.pdf.
Acesso em 13 ago./2021.
BRASIL. ANAC. Resolução 280 de 11 de julho de 2013. Dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao- 1/resolucoes/resolucoes-2013/resolucao-no-280-de-11-07-2013. Acesso em: 13 ago. 2021.
BRASIL. ANTT. Resolução 1692, de 24 de outubro de 2006. Dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso no âmbito dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, e dá outras providências. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=103594. Acesso em: 13 ago.2021.
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais – PDC 863/2017. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1617
- Acesso em 9 ago. 2021.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 13 ago. 2021.
BRASIL. CONTRAN. Res. 303/2008 de 18 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas. Disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/REPUBLICACAO_RESOLU CAO_CONTRAN_303_08.pdf. Acesso em: 13 ago. 2021.
BRASIL. Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso […]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2007/decreto/d6214.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 13 ago. 2021.
BRASIL. Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm Acesso em 9 ago. 2021.
BRASIL. Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica […]. Disponível em: planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2010/Lei/L12212.htm. Acesso em: 5 ago.2021.
BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 13 ago.2021.
BRASIL. Lei 7.713/88 de 22 de dezembro de 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7713compilada.htm Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Lei 8.742/93, de 7 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.
BRASIL. Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. Acesso em 10 ago.2021. Acesso em 5 ago. 2021.
BRASIL. Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento. Secretaria Especial de Direitos Humanos, conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Brasília, 2003, p.74.
CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO – CEI-SC. Direito do idoso: conhecer para defender. Florianópolis, 2014. Disponível em: https://www.sds.sc.gov.br/index.php/conselhos/cei/materiais-apoio/2459- cartilha-direito-do-idoso/file. Acesso em 17 set 2021.
FRANGE, PAULO. O Estatuto do Idoso comentado por Paulo Frange. 2004. Disponível em: www.paulofrange.com.br/ Livroidosofinal.pdf. Acesso em: 25 maio, 2014.
GAUCH, G. Direitos dos Idosos no Plano Internacional. In: Dez anos do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. 2.ed. 2013. p.82.
NOTARI, Maria Helena; FRAGASO, Maria Helena Japiassu Marinho de Macedo. A inserção do Brasil na política internacional de direitos humanos da pessoa idosa. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2603, 17 ago. 2010. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/17206. Acesso
em: 8 ago. 2021.
ONU. Organização das Nações Unidas – Brasil. ONU publica textos explicativos sobre cada artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/81583-onu-publica-textos- explicativos-sobre-cada-artigo-da-declaracao-universal-dos-direitos. Acesso em: 6 agosto 2021.
ONU. Plano de Ação Internacional de Viena Sobre o Envelhecimento, s/d. Disponível em: https://www.ufrgs.br/e-psico/publicas/humanizacao/prologo.html. Acesso em: 5 ago. 2021.
ONU. Plano de ação internacional sobre o envelhecimento, 2002 / Organização das Nações Unidas; tradução de Arlene Santos, revisão de português de Alkmin Cunha; revisão técnica de Jurilza M.B. de Mendonça e Vitória Gois. – Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. Disponível em: http://www. observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_ manual/5.pdf. Acesso em: 5 ago. 2021.
OPAS. Organização Pan-Americana da saúde. Década do Envelhecimento Saudável. Disponível em: https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento- saudavel-2020-2030. Acesso em 5 ago. 2021.
ZUCCO. M.J.B. Direitos da Pessoa Idosa: Deveres do Poder Público, da Sociedade e da Família. Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina – CEI/SC. Florianópolis, 2017. Disponível em: https://www.sds.sc.gov.br/index. php/conselhos/cei/materiais-apoio/3086-cartilha-direitos-da-pessoa-idosa- deveres-do-poder-publico-da-sociedade-e-da-familia.
NOTAS:
1 ZUCCO, M.J.B. Advogada e membro da ANG SC. Texto elaborado como base para uma palestra proferida no I Ciclo de Formação da ANG AL, em 23 de agosto de 2021, na modalidade virtual.
2 Fala inserida no discurso do Secretário Geral das Nações Unidas proferido na II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, Madri, 2002.
3 ONU, 2018
4 GAUCH, 2013. p.82
5 ONU. Plano de Ação Internacional de Viena Sobre o Envelhecimento s/d.
6 ONU. Plano de Ação Internacional de Viena Sobre o Envelhecimento, s/d.
7 ONU. Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, 2002. Introdução, item 14.
8ONU. Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, 2002. Introdução, item 10.
9 Notari e Fragoso, 2010.
10 Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1617507. Ver também a versão didática site da ANG: A ANG Brasil apoia a “Ratificação da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa”. http://angbrasil.com.br/index.php/convencao-interamericana-o-que-todo-brasileiro-deve-saber/
11 Consultada a tramitação do PDC em 09/08/2020 – https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2164910.
12 A ANG (instância nacional) manifestou-se como parceira na implementação da Década.
13 OPAS. Década do envelhecimento Saudável. Disponível em: https://www.paho.org/pt/decada-do- envelhecimento-saudavel-2020-2030
14 ZUCCO, 2017, p.18 e ss.
15 FRANGE, 2004.
16 Considerando o papel autônomo dos Conselhos, constituídos paritariamente de membros da Sociedade Civil e membros governamentais (como trabalho voluntário, sem ônus para o poder público),e tendo a função primordial de “controle social”, penso ser discutível tal classificação de competência. Contudo, dessa forma têm sido criados, também, os Conselhos estaduais e municipais do idoso, sempre por projeto de lei de iniciativa do Executivo.
17 CEI-SC, 2014 e ZUCCO, 2017
18 ZUCCO, M. J. B, 2017.
19 LIRA, Wladimir Paes de. (Palestrante) Maratona Digital da OAB SC, em 11/08/2021.
***Imagem ilustrativa, fonte: freepik.com
ACESSE O TEXTO EM PDF AQUI






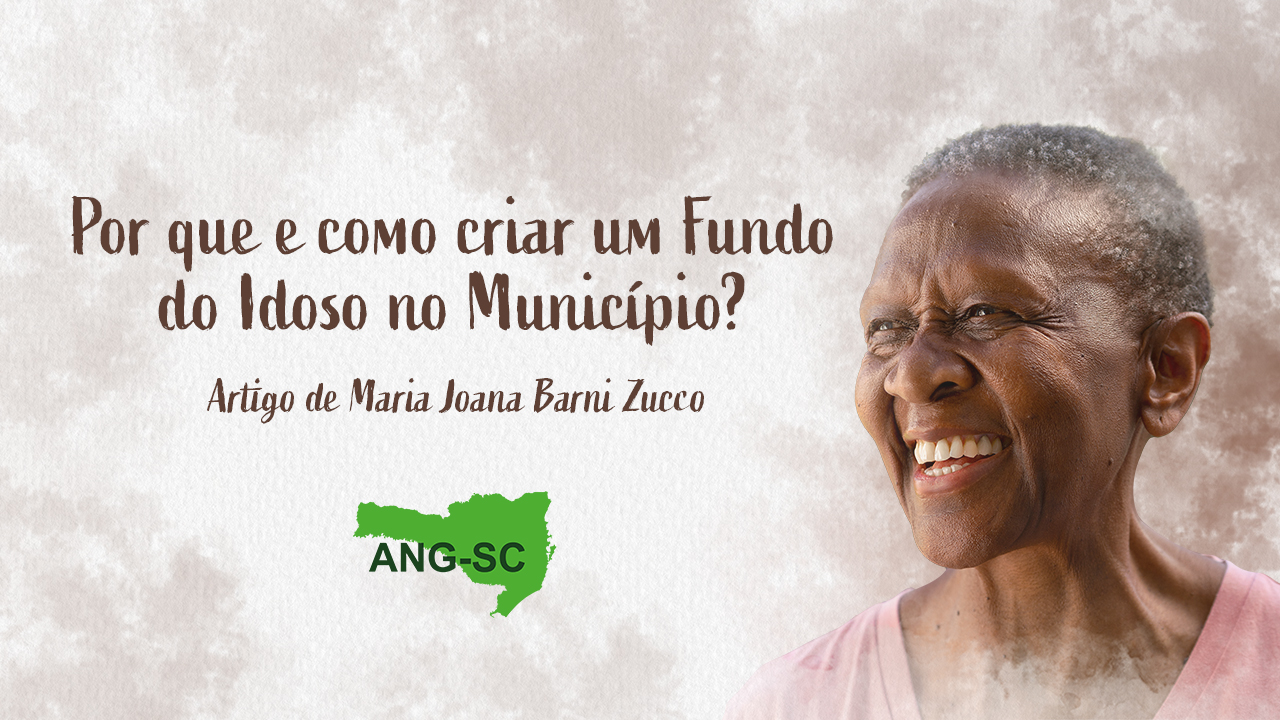
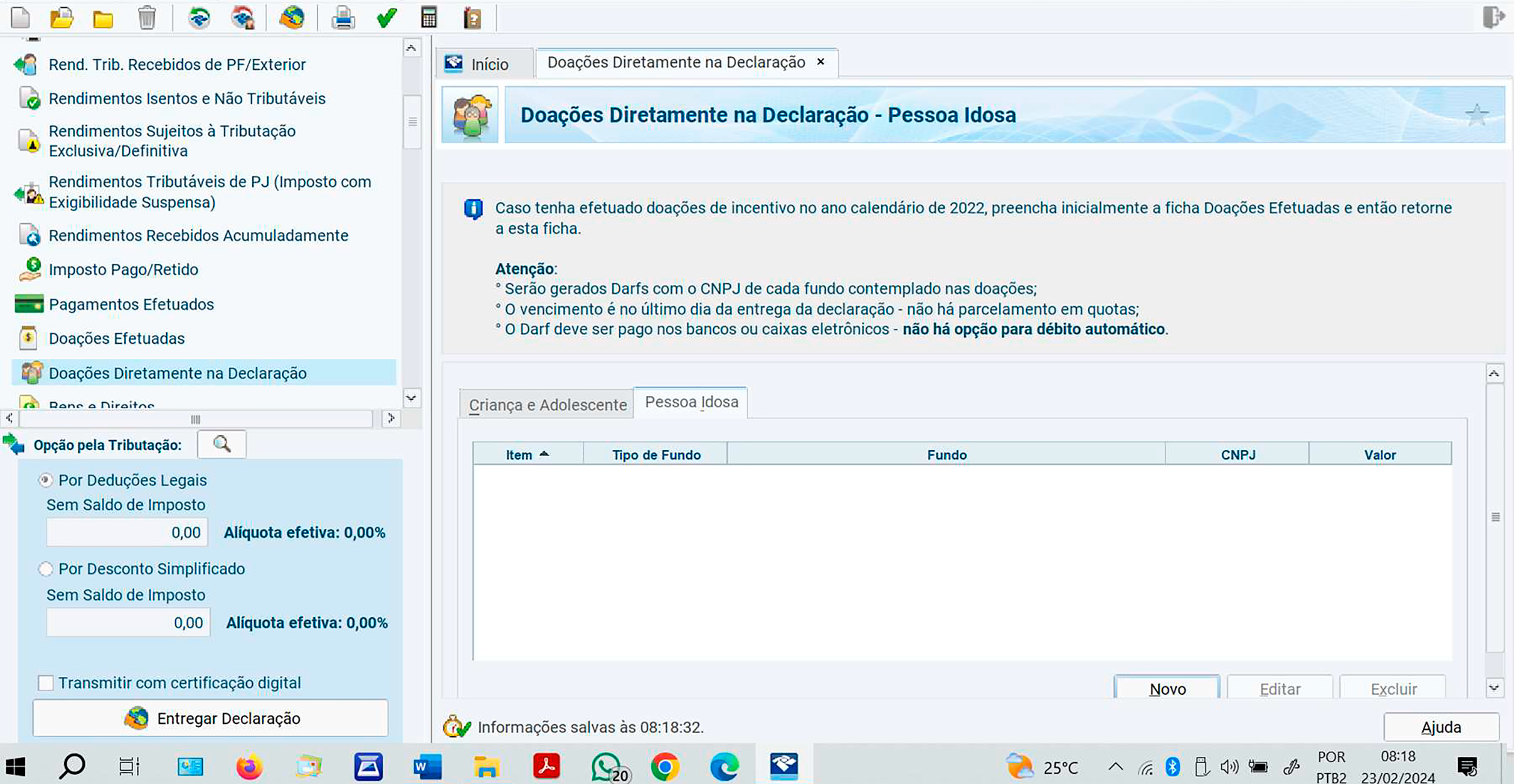











 Imagem de Alexas_Fotos por Pixabay
Imagem de Alexas_Fotos por Pixabay